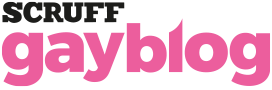As pessoas estão preocupadas – com toda razão – com as imagens adulteradas pela inteligência artificial, como se as imagens houvessem tido, algum dia, o estatuto de verdade absoluta. Nunca tiveram.
A sabedoria popular sempre foi mais cautelosa com o visível. “Não julgue o livro pela capa”, “as aparências enganam”. Isso nós já sabíamos.
O impasse é outro: mesmo sabendo, continuamos a exigir das imagens aquilo que elas nunca prometeram. Queremos que garantam a verdade. Queremos que decidam por nós.
A inteligência artificial apenas torna crível um pedido antigo.
A IA revela o que há muito já sabíamos: a força e a fragilidade da imagem.
Vivemos hoje um superlativo da imagem. Não apenas imagens demais, mas imagens convocadas a responder por tudo: pela verdade, pelo desejo, pelo laço, pelo valor do outro. Não se trata mais de ver – trata-se de acreditar que ver basta.
Nesse regime, o amor deixa de ser encontro e passa a ser contagem. Mede-se afeto em curtidas, desejo em alcance, presença em visualizações. O que não se deixa ver parece não existir; o que não se deixa circular como imagem perde estatuto.
A imagem, convém insistir, não é o problema.
O excesso está na exigência.
Na garantia.
Na decisão.
Na verdade.
Sabemos que a imagem falha.
Sabemos que ela não resolve.
E, ainda assim, insistimos em pedir que ela funcione como se resolvesse.
Quando se exige da imagem o que só o impossível poderia sustentar, o laço empobrece.
O desejo se confunde com captura. A alteridade se reduz àquilo que pode ser contado, ajustado, apropriado.
Mas aquilo que escapa não é defeito.
Um funcionamento perfeito não diz nada.
Um circuito que se fecha sobre si mesmo não produz sentido.
É a falha que marca.
É a interrupção que significa.
É o limite que permite elaborar.
O problema não é que algo não se deixe capturar.
O problema é continuar acreditando, apesar de saber que algo escapa, que nada deveria escapar.
Há práticas inteiras que funcionam assim: produzem efeitos, organizam respostas, sustentam crenças – precisamente porque não interrogam o ponto em que algo falha. A ignorância, aí, não impede o funcionamento; ela o protege. Ela evita o confronto com aquilo que não se deixa recolher.
O ato só pode surgir quando esse “eu sei, mas mesmo assim…” deixa de sustentar o funcionamento e passa a ser atravessado. Não para abolir o impossível, mas para fazer algo com ele. Não para fechar a rede, mas para reconhecer o mar.
E é nesse ponto:
onde o saber já não serve de álibi,
onde algo não se deixa capturar,
onde o circuito não se fecha –
que o engano s’engana.