O advogado e professor de direito Renan Quinalha compartilhou sua trajetória e visão sobre o movimento LGBTI+ em entrevista ao podcast do Gay Blog BR. Na conversa, o ativista explanou sobre como se envolveu tardiamente com o movimento, já na faculdade de direito da USP, ao se declarar como homem gay e buscar conhecimento sobre a temática LGBTI+.

Quinalha destacou que utiliza a sigla LGBTI+ por ser a mais convencionada no movimento, refletindo a diversidade e evolução contínua da comunidade. Ele ressaltou a importância de reconhecer a fragilidade dos direitos conquistados e a necessidade de vigilância constante, devido à mobilização de forças conservadoras no Brasil e no mundo. “Sempre tem risco e a gente sempre tem que estar alerta. Nenhum direito é conquistado para sempre“, afirma.
O advogado mencionou figuras históricas fundamentais para o movimento LGBTI+ no Brasil, como James Green, João Silvério Trevisan e Celso Curi, que abriram caminhos durante a Ditadura. Renan Quinalha também abordou a persistência de termos pejorativos e a importância da educação e da cultura na mudança desse cenário.
Em seu livro “Movimento LGBTI+“, Quinalha destaca a necessidade de uma visão interseccional, integrando questões de classe, raça, gênero e outras identidades. Ele enfatiza que garantir direitos civis não é suficiente para a comunidade LGBTI+, que também precisa de acesso a direitos sociais amplos.
Renan Quinalha comentou sobre seu livro “Novas fronteiras das histórias LGBTI+ no Brasil“, que busca descentralizar as narrativas LGBTI+ e incluir vozes de diferentes regiões e temas. Ele explicou o processo de mapeamento de trabalhos acadêmicos e a importância de dar visibilidade a histórias fora do eixo Rio-São Paulo. “Uma região é uma localização importante do país, sem dúvida, mas não é tudo“, disse o autor.
O advogado finalizou discutindo seu novo livro “Direitos LGBTI+ no Brasil: novos rumos da proteção jurídica“, que analisa criticamente as conquistas e fragilidades dos direitos LGBTQIA+ no Brasil. Ele destacou a importância de políticas públicas e da ocupação de espaços de poder para garantir uma vida digna e plena para a comunidade LGBTI+.
Confira trechos da entrevista
Como o movimento LGBTQIA+ entrou na sua vida? Como a defesa dos direitos civis também entraram na sua vida?
- É uma história interessante porque chegou mais tardiamente. Eu já era militante político, desde o movimento secundarista, estudei no Instituto Federal aqui em São Paulo, logo me politizei no Ensino Médio e então comecei a participar do movimento estudantil. Quando eu entrei na faculdade de direito da USP, aqui em São Paulo, eu também segui militando e participando do movimento de direitos humanos já como estudante de direito. Trabalhando mais temas de memória e verdade sobre a Ditadura, muito com comissões de familiares de mortos e desaparecidos políticos da época da Ditadura, sem um recorte LGBTQIA+. Eu ainda tinha uma vivência heterossexual, não me entendia como um homem gay. Estava começando a experimentar e entender mais outras realidades. Eu saí da zona leste de São Paulo, que é onde eu nasci, e vim morar no centro já no fim da faculdade, quando comecei a estagiar e advogar. Foi esse processo de autodescoberta, de eu me entender como homem gay, já no fim da faculdade, começo do mestrado – isso deve ser anos 2009/2010. E para mim foi muito importante a leitura sobre o assunto, então eu buscava muito avidamente coisas para ler, para entender melhor mesmo. Eu já estava com uma vida acadêmica, estava fazendo mestrado, estava fazendo Ciências Sociais como outra graduação. Para mim era importante ler sobre esse assunto, pesquisar e comecei a encontrar alguns poucos livros que tinha, porque é impressionante como cresceu o número de livros sobre essa temática, e comecei a me engajar no movimento propriamente, colaborando, participando de atividades, aproximando-me desses diálogos. Eu entro no campo dos direitos humanos por outra entrada, que é a da Ditadura e da justiça de transição, quando trabalhei na Comissão da Verdade, enfim, teve vários momentos aí desses trabalhos que eu fazia em direitos humanos. E depois que eu encontro a temática LGBT. E mais, quando eu me assumo como homem gay, vejo a importância também de militar nessa frente, de atuar nesse campo.
Você normalmente usa a sigla LGBTI+. Tem alguma razão, porque a gente sabe que existem várias: LGBTQIA+, LGBTQIAP+, enfim, a importância de sempre incluir, né? Mas especificamente nas suas publicações, sempre sai LGBTI+. Tem alguma razão?
- Eu tenho utilizado LGBTI+ porque essa é a sigla mais convencionada no âmbito do movimento. A gente não tem uma definição oficial dessa sigla, ou seja, não tem uma instância que diz: “A sigla correta é agora essa ou é aquela”. Depende do uso, depende do contexto, depende do território, do país, da cultura em que a gente está falando. Então isso varia muito. Eu acho que a LGBTI+ expressa esse acúmulo das décadas do movimento no Brasil. Na última conferência também que já era o LGBT+, pessoas intersexo chegaram depois, mas têm atuado com redes nacionais de maneira organizada. Então, como nos livros em geral, abordando dessas identidades LGBTI+, eu não estou falando de pessoas assexuais, de pessoas transexuais não especificamente. Então, eu prefiro colocar o que efetivamente está sendo discutido no livro, por isso uso LGBTI+. Eu acho que o “mais” cumpre esse papel também de mostrar que é uma comunidade sempre em construção e mudança. Então nunca é um processo fechado e acabado. Certamente essa sigla vai ser outra daqui a cinco anos, e a gente vai publicar o livro usando outra sigla logo, logo.
Ainda corremos o risco de perder todos os direitos conquistados juridicamente até agora?
- Sempre tem risco e a gente sempre tem que estar alerta. Nenhum direito é conquistado para sempre. Direito não é escrito em pedra; é fruto de um processo de luta social, de luta política e ele vai refletir essa correlação de forças na sociedade. A gente tem uma mobilização muito forte da extrema direita, não só no Brasil, com o bolsonarismo, que a gente assistiu nesses últimos anos, inclusive, na Presidência da República. Mas lá fora, então, Itália, Turquia, Rússia, vários países do mundo, Polônia, são países que estão vivendo processos de desdemocratização muito intensos e isso nos preocupa porque mostra que não só a democracia é frágil, mas os direitos LGBT+ também são frágeis. Sem democracia a gente não tem direitos para nossa população, não tem inclusão da diversidade sexual e de gênero. A gente precisa estar muito atento a isso, sobretudo no Brasil, em que os nossos direitos são recentes. De 2011 para cá, ou seja, um pouquinho mais de dez anos, uma década. E eles são direitos conquistados e reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente não tem uma lei aprovada pelo Parlamento, sancionada pelo Executivo, que dá maior proteção, maior consolidação para a legislação. O que a gente tem são decisões judiciais importantes, sem dúvida, temos que defendê-las, mas é preciso ir além. A gente ainda precisa dar maior proteção e consagrar mais fortemente os direitos LGBTI+ e não deixar que eles sejam retirados, porque eles podem ser retirados. Outros países têm mostrado isso no mundo.
Em vários momentos você afirma, nos seus dois livros, “Movimento LGBTI+” e “Contra a moral e os bons costumes“, que o indicador fundamental do grau de liberdade, inclusão e democracia de um determinado regime ou governo é a maneira como ele integra ou não uma agenda de diversidade sexual. Você acabou de comentar alguns países e todo esse retrocesso que está acontecendo e aconteceu no Brasil. Queria que você comentasse essa afirmação.
- Eu acho que a gente tem aí uma questão fundamental, que é a liberdade sexual e de gênero. Durante a segunda metade do século XX, isso é uma das conquistas mais importantes das liberdades individuais, das liberdades públicas que a gente conseguiu avançar em vários países do mundo. Aqui no Brasil avançamos precariamente, ainda de maneira limitada, mas avançamos de maneira significativa também. A gente tem o casamento homoafetivo, a gente tem o direito à identidade de gênero, à criminalização da LGBTfobia, o direito à doação de sangue, a discussão sobre gênero e sexualidade nos currículos escolares. Tudo isso tem mostrado que esse tema é fundamental, mas, ao mesmo tempo, tem gerado reações. Isso não só no Brasil, em outros lugares também, reações conservadoras que colocam a população LGBTI+ mais no epicentro dos debates, ou seja, acaba virando o alvo preferencial. É isso que a gente tá vendo em vários lugares do mundo, como a Itália, por exemplo, que é um país de tradição recente, democrática com percalços, mas que está sofrendo esse processo. Nos Estados Unidos a mesma coisa. São leis anti LGBT que estão passando anti drag, anti trans que estão passando em vários estados norte-americanos. São centenas de proposições, já em todo os Estados Unidos e várias aprovadas, dezenas; já são mais de 80 leis aprovadas até 2023 de restrição a direitos de liberdade sexual e de gênero. Isso é um indicativo de que a democracia vai mal nesses lugares. Por isso que é preciso esse cuidado no nosso país. E não foi diferente aqui. Durante o Governo Bolsonaro, a gente também teve campanhas bastante intensas, [como a] da Damares “menino veste azul, menina veste cor de rosa” foi a primeira fala da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Acho que tudo isso nos [coloca] em uma posição de alerta permanente, porque os direitos não podem ser só conquistados, eles têm que ser conquistados, mantidos e efetivados. Tem um caminho longo depois da conquista formal do direito.
Nas primeiras páginas do seu livro “, você faz uma dedicatória logo no início que é: “A quem veio antes, abrindo os caminhos do nosso orgulho”. Você concorda que não dá para se falar sobre o movimento LGBTQIA+ no Brasil sem mencionar três figuras James Green, João Silvério Trevisan e Celso Curi?
- Sem dúvida, são três figuras de referência. As trajetórias dessas pessoas marcam nesse momento do Brasil, ainda da Ditadura, as possibilidades de desenvolvimento de um movimento organizado LGBTI+, e são pessoas que escreveram sobre. Celso Curi teve a coluna do meio no jornal Última Hora. Em 1976 ele estava falando de questões LGBTI+. Em plena Ditadura, tinha um sujeito dentro de um jornal, jovem, Celso Curi, ali, com seus 30 anos, fazendo essa coluna, que era outro momento do debate sobre essas questões. Era muito pioneiro, muito corajoso. João Silvério Trevisan a mesma coisa. Vai começar as organizações, chamando as primeiras reuniões do grupo Somos. James Green também vai participar desse grupo ainda nos anos 70. E são pessoas de referência porque escreveram obras importantes, mesmo com visões diferentes sobre a política LGBT, o movimento, a história, a memória. Mas são pessoas fundamentais, sem dúvida, que a gente tem que homenagear, que a gente tem que ler, que a gente tem que divulgar os trabalhos porque abriram os caminhos para o que a gente tem hoje, as possibilidades que a gente encontra de discussão desses temas.
Ainda no seu livro “Movimento LGBTI+“, eu elenquei vários termos que, quando você lê, gera um desconforto de ver como se reportavam às pessoas LGBTQIA+, como “subversivos”, “anormais”, “desajustados sexuais”, “estranha fauna”, o qual você desumaniza e animaliza a pessoa, “degradantes”, “má influência”, em versões sexuais, “esse tipo de gente”. [Além de] vários tipos de agressões, principalmente com pessoas travestis, como corte de cabelo e uso compulsório de hormônios masculinos para “voltarem a ser homens” e “corpos que deveriam ser removidos e eliminados”. A gente sabe que muita coisa se avançou na sociedade, mas o que você acha que precisa para mudar radicalmente esse cenário? Porque esses são temas que a gente escuta ainda, ainda faz parte do vocabulário de muitas pessoas, ainda mais com que a gente viveu recentemente, né?
- Eu acho que é uma disputa da cultura. Tudo isso mostra que ainda há muito estigma sobre a população, mesmo a gente reconhecendo algumas políticas públicas, alguns direitos, algumas pessoas acessando esses direitos, [não] toda a comunidade, ainda é muito desigual esse acesso. Eu acho que a gente tem uma questão cultural de fundo, então acredito muito na educação e na cultura. Não é à toa que eu sou professor e que eu tento dialogar para fora muitas vezes dessa bolha da comunidade, de tentar escrever um livro, por exemplo, como o “Movimento LGBTI+”, que é um livro mais curto, com uma linguagem mais acessível, menos acadêmico. Porque acho que a gente precisa ampliar esses debates e colaborar com jornais, com televisão, com essas possibilidades de comunicar para fora da própria comunidade, porque a gente precisa educar a sociedade. Todo mundo foi educado historicamente no Brasil a ser LGBTfóbico. Esse é o normal e essas falas refletem isso. Tudo que é diferente desse normal, é “desviante”, é “pecado”, é “doença”, é “crime”, é “algo negativo”. Então a gente tem que fazer esse esforço de reeducação das pessoas, além dos embates que vão acontecer. Mas eu acredito muito no poder da cultura e da educação, e acho que a arte, por exemplo, é um espaço importante nisso, porque ela toca pelo afeto, por outras dimensões. E eu fico feliz de ver a quantidade de produções audiovisuais LGBTI+, de teatro, de revistas, de livros, de literatura, porque é dessa maneira que a gente vai, “normalizando e entendendo” que é possível ter essa diversidade nas suas manifestações nas mais diversas formas. A gente vai criando uma outra cultura que não é uma subcultura mais, como sempre foi identificada. A gente no nosso gueto, fazendo nossa subcultura que a gente sempre teve. É a gente influenciando a cultura hegemônica, disputando espaço nela.
No seu outro livro “Contra a moral e os bons costumes: A ditadura e a repressão à comunidade LGBT“, você menciona que é imperioso que o movimento LGBTI+ articule não apenas as reivindicações de sexualidade e identidade de gênero, mas também integre as dimensões de classe, raça, gênero, etnia, deficiências, entre outros marcadores sociais da diferença. Qual a importância de se incluir todas essas interseccionalidades que fazem parte da comunidade LGBTQI+? Lembrando que, há pouco tempo, a sigla era GLS, que já excluía principalmente as pessoas travestis e trans.
- Sim, é fundamental. Acho que essa é uma das questões mais importantes e atuais hoje, de a gente ter uma visão interseccional, porque, em primeiro lugar, ela nos permite ver a diversidade dentro dessa comunidade. Às vezes, a gente fala “comunidade LGBTI+” parece que é uma coisa monolítica, homogênea, uma coisa única. Não é. Tem muita diversidade e tem muita desigualdade aí dentro também, entre cada letra, historicamente, e dentro de cada letra também. Você falar de um gay branco que mora em São Paulo, que tem formação superior, ou de um gay na periferia de uma região da cidade do Centro-Oeste do país, etc. Ou seja, é muito diferente a realidade dessas pessoas do ponto de vista da vivência também da sexualidade e não só da raça, da classe, mas também da sexualidade, porque essas coisas estão conjugadas. Então, é fundamental que a gente olhe para essas identidades, não as separando. Porque você não pode se despir das suas identidades. A gente é marcado por várias identidades socialmente, atravessado por várias desigualdades, e é fundamental que a gente olhe para elas. E acho que isso permite ver mais complexidade dentro da própria comunidade e também mostra para a gente que não tem como a gente ter um mundo de LGBTI+ felizes. Ou seja, não é só garantir casamento para todo mundo, e direito à identidade de gênero, porque isso não resolve. Pessoas LGBTI+ também precisam de direitos sociais, também precisam de trabalho, de renda, de assistência social, de educação, de saúde, ou seja, acesso a direitos de maneira ampla. Cidadania é ampla. Ela não é só de cidadania, de direitos civis. Se a gente acha que é só isso, resolve a vida da população LGBTI+. Mas não resolve, né? Tem muita gente da população LGBTI+ que está desempregada, que está em subemprego, que está precisando de assistência social, de previdência. A gente precisa olhar para essa dimensão interseccional para justamente conseguir dar conta de toda essa diversidade que a gente tem dentro da nossa comunidade.
No seu outro livro, “Novas fronteiras das histórias LGBTI+ no Brasil“, coorganizado com Paulo Souto Maior e publicado pela Elefante, queria saber sobre essa capilaridade. Você mencionou o Centro-Oeste e a importância de buscar outras falas, de sair dessa bolha Sudeste/Sul. E te pergunto sobre a capilaridade que o livro teve em todo o território, descentralizando as falas e buscando outras pesquisas e também, de certa forma, apoiar essas pessoas que estão fora do centro.
- Esse livro surgiu justamente dessa ideia e uma preocupação que eu tinha junto com o Paulo, que a gente estava notando crescer muito a produção acadêmica sobre essa questão da história da memória LGBTI+. Mas a gente via que, muitas vezes, o que circulava, o que se conhecia, era só o que estava sendo produzido nos grandes centros. Então, em grande centro a gente fala Sudeste, mas no fundo é Rio-São Paulo. O eixo Rio-São Paulo, que é o que se resume a Brasil, muitas vezes, para as pessoas. Tudo que aconteceu aqui parece que é a história do Brasil e não é. Uma região é uma localização importante do país, sem dúvida, mas não é tudo. Nesse livro a gente ficou mais de cinco anos acompanhando e monitorando as defesas de dissertações, teses de pesquisas acadêmicas por várias universidades do país, sobretudo as universidades que se expandiram pós anos 2000, que a gente teve um processo de interiorização também das universidades, nos anos do começo dos anos 2000. Isso vai refletindo também preocupações locais, vai trazendo outras histórias, outras personagens, outras narrativas, preocupações. E a gente começou a convidar essas pessoas falando: “Olha, você topa fazer um artigo mais acessível, linguagem menos acadêmica da sua pesquisa para a gente publicar um livro?” E a gente foi juntando esse material. O livro parte de novas fronteiras históricas, que são períodos menos cobertos pela literatura tradicional. Novas fronteiras territoriais, que são regiões geográficas também que têm menos espaço. Então, tem textos sobre Pantanal, sobre Rondônia, o Norte e Centro-Oeste do país, que são regiões menos visitadas. E fronteiras temáticas, que são temas mais recentes, desde sexualidades indígenas, passando etnografias em favelas cariocas, que é uma visão interseccional importante, questões de envelhecimento que é um tema novo, importante na nossa comunidade, porque agora nós estamos envelhecendo enquanto comunidade. A primeira geração que vai envelhecendo. Então a gente tem essa diversidade de temas nesse livro que tenta, justamente, romper com uma produção anterior minha, que é muito focada no eixo Rio-São Paulo, que é onde eu tenho condição de fazer pesquisa. Meus outros livros, no fundo, são histórias das grandes cidades, os grandes centros urbanos. Mas nem todo mundo fugiu da cidade pequena, do interior da zona rural para a cidade grande. Muita gente fez esse movimento na comunidade, mas nem todo mundo, porque não deu para fazer, porque não podia fazer, não tinha dinheiro para fazer. E essas pessoas ficaram nas suas regiões, vivendo. Interessa para a gente também saber como é a vida dessas pessoas nesses lugares. E esse livro conta essas histórias.
E foi um mapeamento que vocês fizeram de trabalhos acadêmicos de pesquisadores.
- Exatamente. A gente foi mapeando pelo país pessoas que a gente nem conhecia pessoalmente, que a gente viu o trabalho, gostou, conversou e convidou. Ele é um mosaico. Evidente que há lacunas. Nenhum trabalho é completo porque o tema é impossível de ser esgotado. Esse livro já merece outras edições, uma coleção, volume dois, volume três. Mas é uma questão interessante porque também tem crescido muito a quantidade de trabalhos. Antigamente era possível acompanhar. Você falava: “Quem escreve sobre questão LGBTI+?” Você tinha três, quatro nomes, em uma mão você já dizia. Hoje em dia não dá mais e isso é ótimo. Tem gente em todo lugar produzindo e cada dia eu descubro coisa nova. É muito bacana isso.
E desses 24 trabalhos, tem algum que te chamou atenção? Algum que comprovou algumas teses, alguns pensamentos que você vinha tendo?
- É difícil selecionar um só. Tem muitos artigos incríveis nesse livro. Eu sou suspeito para falar, mas nem tem artigo meu. Eu sou organizador e aí eu assumi uma postura de falar: “Eu sou de São Paulo, não vou escrever sobre. É para abrir espaço”. A gente até brincou que tinha uma “Sudestofobia” aí no livro, ou seja, ninguém do Sudeste. Mas tem o livro do Luiz Mott que abre. O Luiz Mott é um pesquisador consagrado e ele fez um trabalho; esse artigo dele sobre a Inquisição é um dos textos que eu acho mais completos e interessantes que existe hoje sobre essa temática. Quem quer estudar a Inquisição no Brasil tem que olhar esse texto dele. Ele faz uma cronologia incrível das fontes dos estudos que ele há décadas vem conduzindo e fazendo. Eu acho esse um texto incrível. O legal do livro é isso, a gente juntou desde pessoas mais consagradas como Luiz Mott, até textos como o do Guilherme Passamani, que fala do Pantanal. É super interessante, ele fala de uma personagem que viveu no Pantanal, em uma cidade de fronteira, etc. Faz uma etnografia ali, e é um texto super interessante. Tem o da Silvia Gião, também do Paulo Vitor, que é muito legal, sobre uma etnografia que os dois conduziram a etnografia separadas. Eles depois se juntaram para fazer esse texto em favelas cariocas. Então traz essa visão da interseccionalidade muito presente. E o da Lauri Miranda, de Rondônia, a primeira travesti a conquistar o doutorado. Ela defendeu mês passado na Federal do Rio Grande do Sul o doutorado dela e é um texto super interessante também, que é uma parte da pesquisa da tese dela. Deixo o convite para o pessoal conhecer mais o livro, porque são vários textos bem interessantes. São 24 textos.
O diretor da ONG TODXS, Daniel Kehl, que foi entrevistado recentemente no podcast do Gay Blog BR, deixou uma pergunta para você. “Oi, Renan. Prazer conversar contigo novamente. Obrigado por todo apoio que você vem dando pela TODXS. Acho que é muito potente a tua voz e também como liderança LGBT. Eu consumo muito teu conteúdo sobre história do movimento LGBT, principalmente a história do movimento LGBT aqui no Brasil. E é muito importante a gente olhar para o nosso passado, a nossa história, apropriar-se dela e lutar para que não aconteça o que aconteceu. Acho que isso é importante da história da cultura. Mas a minha pergunta é sobre o futuro. Acho que você, como historiador, como professor, qual que é o futuro, o que você deslumbra para a comunidade LGBT? Qual seria a tua utopia? Um sonho LGBT para a sociedade?“
- Ótimo também dialogar com você, Daniel. A questão é excelente para a gente pensar as possibilidades de futuro, de horizonte, de utopia para nossa comunidade. A gente, em geral, foi colocado no lugar sempre muito reativo, defensivo. A gente querendo sobreviver só. E acho que hoje a gente consegue ampliar mais a nossa lente para não só sobreviver. A gente não quer só sobreviver. Não ser assassinado, não sofrer LGBTfobia. A gente quer um projeto de país que seja inclusivo, que seja diverso. Ocupar espaços de poder. Ter políticas públicas adequadas nas várias frentes aí que importam para nossa comunidade. Então, minha utopia passa por esse lugar. Converter essa posição defensiva da sobrevivência que a gente sempre foi colocado e a gente resistiu como pôde, com a nossa criatividade, com a energia que a nossa comunidade tem, com tudo o que a gente tinha de recurso. Com muito pouco nós fizemos muito, eu acho, a ponto de a gente conseguir pautar hoje nossa agenda de uma vida plena, de uma vida digna de cidadania, que eu acho que, no fundo, é um projeto para o país e que não beneficia só a gente. A liberdade sexual, a liberdade de gênero beneficiam todas as pessoas heterossexuais cisgêneras. O direito ao prazer, que foi uma luta sempre central para nossa comunidade. Isso é algo que toda pessoa tem que ter direito, ao seu prazer, usufruir da sua sexualidade de maneira livre, de maneira que seja prazerosa. Eu acho que a gente tem essas possibilidades de futuro hoje e eu sou otimista, em algum grau. Eu, óbvio, acho que a gente tem que ser cauteloso, [ter] o otimismo cauteloso, mas [também] acho que a nossa trajetória nos mostra que é possível construir esse caminho. Não tem um futuro apartado do que é o presente ou do que foi o nosso passado. Eu acredito muito nessa junção dos tempos históricos assim. A gente está aqui imbuído de passado, de memória. Isso é importante porque a gente quer colocar no museu só como um objeto de contemplação, mas porque influencia a nossa vida hoje e nos permite construir esse futuro diferente também.
No final do seu livro “Contra a moral e os bons costumes”, você menciona dois momentos: a escrita da tese e a defesa do doutorado – 2017; momento da publicação em 2021, logo ali, pós-pandemia ou durante a pandemia. E hoje, 2024, quais novas reflexões e dados você traria?
- Sim, esse trabalho contra a moral remonta à época em que eu trabalhei na “Comissão da Verdade”, que foi de 2012 a 2014. Depois se tornou objeto do meu doutorado, que eu conduzi também nessa época, até 2017, durante cinco anos e aí concluí em 2017. E aí eu assinei contrato com editora, trabalhei muito no livro. Veio a pandemia e veio o governo Bolsonaro em 2018, a eleição do governo do Bolsonaro. Isso também chamou muita atenção porque vários desses discursos da Ditadura LGBTfóbicos eu estava ouvindo e vendo na campanha política e as pessoas reproduzindo nas ruas. Então, para mim, um trabalho que caiu a ficha para mim, um trabalho que eu achava que era historiográfico, no fundo, era um trabalho sobre o Brasil de hoje, porque essa Ditadura não passou ainda, em vários sentidos. Essa Ditadura persiste. Caiu-me a ficha naquele momento, da importância e da atualidade do trabalho nessa perspectiva também. Acho que em 2024 a gente vive um momento de reconstrução dessas arenas e espaços. Muito interessante ver como a história tem esses seus caminhos. Hoje eu estou presidindo um grupo de trabalho no Ministério de Direitos Humanos, que é de memória e verdade LGBTQIA+. Então é a ideia de a gente não só sistematizar as violências da nossa história, da colonização até hoje, entender todos os tipos de violência que foram praticadas contra a nossa comunidade, documentar isso oficialmente e recomendar políticas de reparação histórica. Isso é uma coisa inédita no mundo. A gente não teve outro país que tenha feito algo dessa magnitude e nós estamos fazendo. E esse é o mesmo país dessa Ditadura, o mesmo país que, em 2018, elegeu o Bolsonaro. Tem essas mudanças e disputas que estão acontecendo que são interessantes de notar, entre esses anos de 17 a 24 (2017 a 2024).
Quando eu li o livro, você mencionou que era um discurso da Ditadura nos anos 60 e 70, eu fiquei pensando em como era para você viver, pesquisar e reviver. Porque, por exemplo, no trecho do livro, você fala que talvez esse esforço de educar cidadãos como se fossem censores tenha sido um dos legados mais perversos da Ditadura no campo da sexualidade e dos costumes. E a gente via alunos filmando professores em prol da escola sem partido. Era assim, censores sendo criados em toda a sociedade. Eu fiquei imaginando quando você escreveu, defendeu, publicou, qual era o seu sentimento, porque você estava vendo na rua o que estava pesquisando, algo que supostamente era histórico. E você estava vendo a história se repetir. Como foi essa sensação? E hoje já tem o livro aqui publicado depois de alguns anos.
- Foi terrível. Esses anos foram terríveis porque eu já trabalhava a questão da Ditadura antes de trabalhar a questão LGBTI+. E aí você vê um sujeito que não só era entusiasta da Ditadura, mas da tortura, de torturadores, homenageia torturadores notórios. Não sou eu que estou dizendo, é a Comissão Nacional da Verdade que disse. É a Justiça Federal, em três instâncias, que reconheceu o Ustra, por exemplo, como torturador. Então, isso é muito ruim. Era uma sensação de uma certa impotência e, ao mesmo tempo, um mal-estar, que eu acho que foi muito marcante nesses anos. E essa sensação de um passado que não passa. Parece que a gente está enredado nessa história de violência do Brasil, que a gente nunca vai sair dela. Mas é isso. Acho que a gente precisa também, às vezes, respirar, tomar um fôlego e ter essa persistência. Acho que a nossa comunidade mostra isso, LGBTI+. Nem sempre vai ser fácil, em geral vai ser difícil, vai ter adversidades, vai ter percalços no meio do caminho. Mas é possível. A roda da história vai girando e a gente tem que disputar esse ritmo, dessa roda girando. A gente tem que ajudar a direcionar para onde ela vai. Então acho que isso também foi bom para para assimilar e entender a importância da política também nisso. Acho que a gente tem que ocupar mais esses espaços justamente para evitar que períodos assim, episódios assim voltem a acontecer.
E o que esperar do seu novo livro “Direitos LGBTI+ no Brasil: novos rumos da proteção jurídica“, que vai sair pela Edições Sesc São Paulo?
- Esse é um livro bem interessante também, que eu tenho trabalhado nos últimos anos e que olha mais para frente, justamente. Então parece que eu precisei voltar nessas outras obras aí para o passado, para a memória, para entender um pouco onde a gente está e aí sim, conseguir fazer uma análise crítica da questão dos direitos, que é tão fundamental para qualquer pessoa. Todo mundo quer ter seus direitos respeitados e, para a população LGBTI+, é mais importante ainda, porque, historicamente, a gente tem esse acesso sempre negado aos direitos. Esse livro tenta olhar numa perspectiva nova. Ele olha para as conquistas que foram feitas no direito, mas mostra de maneira crítica. Então mostra essa fragilidade. O que que significa ter decisões do Supremo sustentando esses direitos. Como a gente pode superar isso? Que caminhos a gente tem possíveis? E olhando para questões, por exemplo, dos direitos das pessoas trans intersexo. Esse finalzinho da sigla, que é muito menos discutido, comentado. Tem muito esse conteúdo também no livro. E, de alguma maneira, olhando para o futuro. Olha para o direito internacional, esses retrocessos conservadores. São vários campos do direito que estão abrangidos. É um livro coletivo também, tem pessoas de todo o país escrevendo e ele vai ser lançado dia 19 de junho no Sesc da Avenida Paulista, às 19h00 (no caso, já foi lançado).
Junte-se à nossa comunidade
Mais de 20 milhões de homens gays e bissexuais no mundo inteiro usam o aplicativo SCRUFF para fazer amizades e marcar encontros. Saiba quais são melhores festas, festivais, eventos e paradas LGBTQIA+ na aba "Explorar" do app. Seja um embaixador do SCRUFF Venture e ajude com dicas os visitantes da sua cidade. E sim, desfrute de mais de 30 recursos extras com o SCRUFF Pro. Faça download gratuito do SCRUFF aqui.

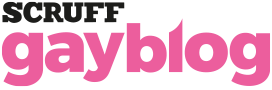
















[…] o evento na Casa Edições Sesc, Alice Caymmi esteve ao lado do advogado Renan Quinalha, autor do livro “Direitos LGBTI+ no Brasil: Novos Rumos da Proteção Jurídica“. O […]