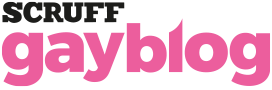Chamamos de amor aquilo que já era outra coisa.
Chamamos de cuidado o que era cálculo.
Chamamos de proteção o que era controle.
Não foi ingenuidade.
Foi adesão.
O aceno de cabeça.
O “faz sentido” dito sem pensar.
A assinatura no rodapé.
Hoje, quase todo mundo sabe
que o discurso não fecha,
que a promessa não se cumpre,
que o sistema falha.
E, ainda assim, continua.
Não porque acredita —
mas porque funciona.
Existe um tipo de crença que não depende da fé.
Ela sobrevive mesmo depois do descrédito.
É a crença de quem diz: eu sei – e segue.
Segue trabalhando.
Segue a mando.
Segue exigindo.
Como se o saber fosse apenas
mais um detalhe administrável.
O amor deixou de ser encontro.
Virou investimento.
Ama-se aquele que rende.
Ama-se aquele que responde.
Ama-se aquele que repete.
O gesto certo.
A opinião certa.
O silêncio certo na hora certa.
Quando o amor passa a exigir utilidade,
ele já não sustenta o desejo.
Ele o substitui.
Há uma violência aí que não grita.
Ela sorri.
Ela orienta.
E diz, com doçura:
você é o problema.
Depois diz:
é para seu bem.
Na família, esse cinismo aprende
a falar a língua do cuidado.
A frase vem pronta.
À mesa.
No carro.
Antes de dormir.
Não é ódio.
É pior.
É abandono organizado.
Aprendemos a chamar de maturidade
a desistência.
Aprendemos a transformar o fracasso em prova de caráter.
Aprendemos a rir da diferença
antes que ela nos exponha.
O cinismo não é ignorância.
É uma forma de gozo.
Goza-se da própria submissão.
Goza-se de ver o outro submetido.
Goza-se de sobreviver
ao custo de se apagar.
Por isso é preciso dizer com clareza:
não era amor.
Era cinismo.
A psicanálise começa em outro lugar.
Quando o sujeito reconhece que amar
não é gerir,
não é calcular,
não é exigir retorno.
Amar é dar o que não se tem
a alguém que não o quer.
E isso — justamente isso —
não serve para nada.
Por isso é tão difícil.